TERRENOS EXPECTANTES
— OU A CIMENTAÇÃO EXCESSIVA DA CIDADE
A propósito da destruição de hortas populares
(Francos, Ramalde, Porto, em meados de abril 2020)
Colocado em 7 de maio de 2020
Os factos são conhecidos, na generalidade. Graças sobretudo a um artigo de Mariana Pinto (Público, 28 de abril de 2020) A Campo Aberto não contesta, obviamente, o direito dos proprietários dos terrenos onde se deu a destruição das hortas populares em epígrafe. E não contesta também que o PDM em vigor permita neles capacidade construtiva. Considera porém necessário que os cidadãos e as autoridades reflitam sobre alguns aspetos desse acontecimento lamentável, nomeadamente, ao que consta, o uso desproporcionado da força, desnecessário e violento.
Direito, violência injustificada e impunidade
Nesse contexto, a Campo Aberto partilha e subscreve o repúdio manifestado pelos moradores locais, já secundados por outras vozes (por exemplo esta), face ao que foi descrito, sem desmentido, como uso de violência e crueldade contra bens e frutos de trabalho, e até de animais, que, goste-se ou não, são já hoje protegidos por direitos próprios. Assinale-se que nem sequer estava construção prevista para breve. A atividade agrícola poderia perfeitamente ter continuado até final da estação mais produtiva deste ano, e nesse caso o prejuízo poderia ter sido muitíssimo menor. Segundo tudo leva a crer, não houve a menor tentativa com vista a encontrar uma solução capaz de permitir uma transição suave para os horticultores.
Além disso, a confiar na verdade dos relatos da imprensa, também eles não desmentidos, é inaceitável a atitude passiva das autoridades, incluindo ao que parece as municipais, relativamente à proteção de outros direitos – que não apenas os dos proprietários –, eles também reais, das pessoas, dos bens e dos seres vivos atingidos pela intervenção. Tanto mais que não parece ter havido aviso formal, atempado e eficaz à comunidade das pessoas afetadas, nem terá havido da parte desta qualquer resistência ilegítima. Acreditamos por isso ser de justiça uma reparação às pessoas atingidas, quer por parte dos autores das violências quer por parte das autoridades públicas. Note-se que estas hortas não serviram apenas os hortelãos e famílias: também pouparam ao proprietário a despesa de manutenção e limpeza de parte do terreno.
Para uma cidade livre de construção obsessiva
Para uma cidade mais humana
Certamente que os populares das hortas de Francos não eram os proprietários dos terrenos em causa. Nem por isso a passividade perante a violência de que foram alvo (seja o que for que possam decidir os tribunais) deixa de ser o sintoma de que a cidade padece de uma doença grave – a doença da desumanidade. Estes acontecimentos suscitam por isso uma reflexão ética incontornável. Por outro lado, e mais indiretamente, desafiam a uma reflexão urbanística – que cidade é esta cujas leis (os PDM, nomeadamente) permitem a contínua impermeabilização dos poucos solos do concelho ainda livres? Começaremos por esta última interrogação. Terminaremos pela primeira, em última análise a mais decisiva.
Perante os acontecimentos, houve quem apontasse à Câmara Municipal do Porto a necessidade de encontrar uma parcela de terreno municipal nas proximidades, por forma a que os populares pudessem refazer as suas hortas. Seria sem dúvida oportuno e parte de uma reparação justa. Mas é cada vez menor a área de terrenos, privados ou municipais, que se podem encontrar livres de construção e que poderiam, ainda que transitoriamente, ser utilizados em agricultura urbana. O golpe que acelerou o quase completo desaparecimento de terrenos agricultáveis foi a não inclusão do Porto (tal como aliás aconteceu com Lisboa, os dois únicos municípios que desfrutam dessa exceção) na Reserva Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional. Ora tal ficou a dever-se ao complexo provinciano, que ainda persiste em alguns decisores, de que a prática agrícola na cidade seria sinal de atraso a erradicar.
Agricultura urbana voltada para o futuro

Estas atraentes laranjas foram fotografadas numa bela quinta minhota. Mas poderiam bem ter crescido numa laranjeira ornamental de uma cidade. Foto Dalila Pinto
Hoje, grandes cidades como Berlim, Paris ou Bruxelas reivindicam-se precisamente da ideia oposta. Em algumas, como Paris, há uma forte corrente de opinião, que chega a ser próxima dos responsáveis autárquicos, a qual defende que a cidade deveria tornar-se a capital agrícola do país. No Porto, os decisores parecem continuar apostados em maximizar os solos impermeabilizados e urbanizados, contra tudo o que aconselharia o esforço de mitigação das alterações climáticas que os próprios dizem assumir.
O centro histórico (e de facto a cidade inteira) foi, não ainda há muito, rico de logradouros vegetalizados, com a presença de arvoredo, jardins e hortas. Na febre de demolição – e construção nova de raiz no espaço demolido, espaço que é a única coisa na verdade «recuperada»; é muitas vezes apenas a isso que se resume a suposta reabilitação da construção antiga, muitas vezes em obras falsamente designadas em alvarás como de reparação e ampliação –, são também arrasados muitos desses logradouros ou excedidas as áreas de impermeabilização permitida, já de si exageradas. Acontece mesmo o paradoxo de, em edifícios classificados e por isso supostamente protegidos dessas investidas, a «proteção» obrigar a parecer de autoridades de conservação do património, que acabam por aprovar projetos que permitem arrasar e impermeabilizar jardins e quintais os quais, de outra forma, seriam obrigados a conservar intocada pelo menos uma magra percentagem da sua área.
Promover protocolos de cooperação para o uso dos terrenos expectantes
Como aconteceu no caso de Francos, a presença de uma utilização transitória foi até útil aos proprietários, preferível ao abandono completo que de outra forma teriam tido durante décadas. Por isso, e tendo em vista o futuro, em terrenos ditos expectantes (por vezes assim mantidos somente por cálculo especulativo), e como já tem sido sugerido noutras ocasiões, parece-nos que o município (o do Porto ou outro qualquer) teria vantagem em incentivar e praticar a mediação entre proprietários de terrenos nessas condições e potenciais utilizadores, e em favorecer ativamente o patrocínio de protocolos que salvaguardassem o direito dos proprietários (impedindo utilizações prejudiciais), mas que ao mesmo tempo protegessem os cidadãos de situações arbitrárias e despóticas como aconteceu no caso de Francos.
Poder-se-ia igualmente conceber a instituição de apoios aos proprietários e de contrapartidas ao uso desses terrenos. O uso económica ou ecologicamente útil desses espaços não teria aliás que restringir-se ao cultivo de alimentos – embora esse seja talvez o mais nobre que se lhe possa imaginar. Também a realização de atividades educativas, ou lúdicas, ou de cultura física, em especial com crianças; ou ainda a criação de jardins e a cultura floral, entre outras, poderiam ser concebidas.
O aspeto de maior destaque em tudo isto é que os decisores, estando ou devendo estar cientes do empobrecimento constante em solos que ocorre na cidade, deveriam declarar encerrado o período da expansão urbanística e tudo fazer para preservar o pouco que resta por impermeabilizar. Só assim deixariam às próximas gerações – as ainda não nascidas e as acabadas de nascer – um pouco da já escassa liberdade que lhes restará de decidir o seu futuro urbano e, eventualmente, de tentarem reparar ou mitigar alguns dos mais grosseiros erros do passado.
A doença de desumanidade
Se as considerações urbanísticas atrás afloradas as consideramos urgentes, não menos importantes são as que o episódio de Francos traz ao de cima no plano ético, quanto ao estado de doença da cidade (sociedade) – a doença da desumanidade.
Não defendemos que os proprietários daqueles terrenos tenham o dever de providenciar o alimento, ou parte dele, das mais de duas dezenas de famílias e cerca de uma centena de beneficiários, segundo as notícias. Mas a forma como, com ligeireza, foi destruído o trabalho da terra que exerciam, com vista à própria sobrevivência, alguns moradores próximos, e a passividade perante tal destruição, revelam uma doença de desumanidade pelo menos tão grave no plano ético como é, no plano sanitário, a pandemia que atormenta o mundo. Os horticultores, sensatamente, não reivindicaram a continuação indefinida do usufruto do terreno, indignaram-se sim pelo modo brutal como o seu trabalho foi destruído, bem como os seus pobres haveres em coelhos, galinhas, utensílios, barracos. Indignaram-se perante uma enorme crueldade, que nenhuma lei ou direito pode justificar – pelo contrário, não a permite. A tudo isso some-se o impacto e a nocividade em termos de saúde mental, dimensão destacada por alguns observadores.
Aos olhos da lei, a violência injustificada não terá sido para alguns um crime, mas ela é certamente uma ação desastrosa, antieconómica, antiecológica e desumana. Aliás, se, por hipótese, a lei não penaliza a destruição injustificada daqueles bens, seria então urgente rever a lei. A principal intervenção que o ser humano pode ter na terra é o seu cultivo numa escala familiar e comunitária. Proceder à destruição de culturas e à matança de animais, ou permanecer negligente perante elas (sejam os cidadãos ou as autoridades) é revelar cegueira ou insensibilidade perante esta dimensão essencial da comunidade. Acresce que tal ação de destruição ocorre num momento em que se agigantam no mundo as fragilidades das populações, as já presentes e as previsíveis num futuro próximo.
Campo Aberto – associação de defesa do ambiente

As quintas tradicionais minhotas, e outras, são uma verdadeira criação artística. Muitas existiram e ainda existem em cidades, como esta. Foto Dalila Pinto
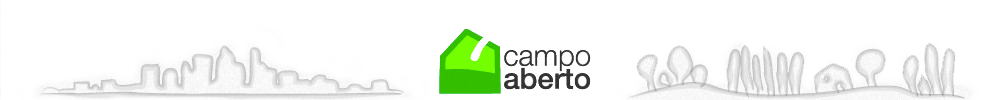



Subscrevo tudo o que é dito neste comunicado e considero muito importante a participação pública que acontecerá antes da ratificação do PDM, é a ultima chance de travar ou corrigir esta revisão feita ao sabor do investimento privado.
Exemplo pessoal: em fevereiro tive que me delocar ao atendimento de urbanismo da Câmara do Porto para consultar um processo de um cliente e fiquei a conhecer um PIP aprovado para o Alto da Fontinha completamente em desacordo com o PDM em vigor e sem nenhuma consideração por um espaço natural belíssimo muito desconhecido. Para mim aquilo que vi significa duas coisas: o desprezo por espaços naturais (neste caso alguns dos terrenos são da câmara) e que a revisão do PDM se vai fazendo pelo somatório de PIP aprovados ilegalmente.
Cara Lúcia Baptista
É de facto lamentável o que se passa na Fontinha. A volumetria em construção é uma violência a um lugar genuíno, sui generis, recatado e dotado de muito encanto. Só se deveria poder tocar nele com a maior cautela e precaução. Mas temos aí mais um dos muitos elefantes em loja de porcelanas que grassam na cidade e no país.
Muito obrigado pelo seu comentário.
Campo Aberto